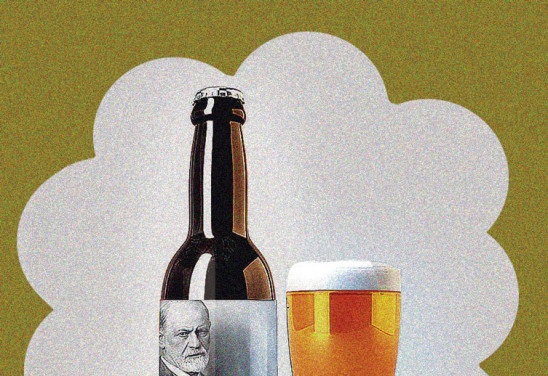A queda parecia imparável. Não houve um pulo, um escorregão, nada; o corpo já surgiu solto no ar, braços balançando sem controle. Até a dor que a bursite vinha provocando nos últimos dias sumiu.
Era possível sentir o vento no cabelo, o que provocava uma sensação dúbia, entre o prazer de estar livre e solto e a agonia de não saber se haveria um chão duro no fim do caminho.
Mas o final foi mesmo com as pálpebras abertas. Sonhos nem sempre são manifestações tão fortes a ponto de fazer com que se lembre deles ao acordar, mas, por algum motivo, aquelas sensações todas — que devem ter durado milésimos de segundo no tempo obtuso dos relógios, mas que permearam grande parte do sono — estavam presentes naquele momento de despertar.
Não tenho mais o exemplar do dicionário de oniromancia que usei muito num programa de rádio para interpretar os sonhos dos ouvintes e, mesmo se o tivesse, não ia procurar sentido algum na manifestação. Estou enfrentando tantas situações conscientes no trabalho que não quero nem saber o que o subconsciente está achando de tudo isso.
Mas um Freud de botequim — ou do rádio — diria que o sonho é uma forma virtual de fuga ou de liberdade, fruto do estresse, da correria e preocupações. Há, portanto, um desejo reprimido. O Jung do mesmo boteco talvez dissesse que o meu cérebro está tentando me equilibrar, oferecendo alguma compensação.
Faz tempo que o homem tenta adivinhar as coisas (inclusive sonhos), inventando os métodos mais malucos, alguns cruéis, como a antropomancia, que usaria o coração de pessoas sacrificadas, outros inocentes, como a esticomancia, que busca explicações a partir da página de um livro qualquer, aberta a esmo.
Muitos são feitos abertamente, como a cartomancia, por meio de baralhos, ou a quiromancia, a leitura das mãos (há também a análise dos pés, podomancia). Mas outras consultas só são possíveis a portas bem fechadas — ou nem isso —, como a prolactomancia, que exige uma observação do fiofó do consultante.
Mas os sonhos só valem a pena se sonhados enquanto estamos acordados e dispostos a realizá-los.
Antes assim do que o ocorrido com Valdomiro, amigo novo, que chegou esbaforido sem falar nada, o oposto do que fazia todo dia. “O que foi, companheiro?”, estranhamos. Sério, olhou para cada um e disparou: “Eu morri ontem à noite”.
Estávamos já acostumados às esquisitices dele, como todo editor de imagens de tevê, maluquete, meio gaiato, moinante em tempo integral. Mas estava claro que estava levando o caso muito a sério, até demais. Passou o dia sisudo, ensimesmado, evitando até fazer o turbilhão de perguntas que costuma disparar o tempo todo.
Só à noite topou contar o sonho; e com riqueza de detalhes. Fora assassinado a facadas, viu o próprio sangue escorrendo para o ralo. E de alguma forma ele parecia acreditar que estava morto, um ectoplasma fora do corpo, errando como assombração. Com cara de detetive de filme ruim encarou um a um:
— Só vou sossegar quando descobrir quem me matou.