
A corrida ao espaço entre Estados Unidos e a antiga União Soviética começou, no final da década de 1950, diante da necessidade dos dois países de se bisbilhotarem mutuamente. Do Sputnik, à cadelinha Laika e Yuri Gagarin, o domínio da estratosfera era uma necessidade, mais para saberem o que o outro estava fazendo do que propriamente a proteção do território. O professor Gar Alperovitz, em Diplomacia Atômica — livro há tempos fora de catálogo no Brasil —, deixou claro que os silos atômicos e a doutrina MAD (Destruição Mútua Assegurada em português) exercida entre as duas superpotências era apenas uma forma de manter o jogo empatado e a tensão necessária para que um ou outro não tivesse a pretensão de uma expansão territorial.
Longe da fronteira espacial, americanos e soviéticos se enfrentavam de forma bem menos tecnológica. Apesar do SR-71 voando a grandes alturas sobre território da antiga URSS ou dos Tupolev TU-95 "Bear" expandindo o espaço aéreo de Moscou no norte da Europa, na África e no Leste Europeu, os dois lados praticavam um cabo de guerra sangrento. No Sudeste Asiático, porém, o antagonista dos americanos era outro: a China. Já na década de 1960, Pequim era um grande exportador de armas para os países — como o Vietnã — que se propunham a encurtar o longo braço americano.
Saiba Mais
Mais sutis que os soviéticos, Pequim enviou "conselheiros" para o Laos, o Camboja, a Tailândia, a Coreia do Norte, o Sri Lanka e a Indonésia, apesar dos seguidos golpes dados por generais alinhados por Washington. Nas Filipinas, de Pequim saiu o ingrediente que nutriu guerrilhas separatistas (inclusive islâmicas) contra Diosdado Macapagal e, depois, Ferdinando Marcos.
A URSS soçobrou depois de lenta agonia, quebrada pelos monumentais gastos com defesa e com a corrupção generalizada facilitada pela exportação de armas aos países sob sua esfera de influência. A China, por sua vez, fazia um mergulho para dentro de si mesma, do qual emergiria no final da década de 1990 como potência tecnológica, depois de adotar uma política de atração de empresas ocidentais (sobretudo as ligadas à informática e às comunicações) com uma combinação irresistível de qualidade, quantidade, prazo, investimento e mão de obra qualificada. Aos poucos, os artigos esportivos e de vestuário de baixo valor agregado foram deixando o território chinês — migrando para Vietnã, Tailândia ou Paquistão — para que os parques de confecções dessem lugar aos complexos de pesquisa, desenvolvimento e prospecção.
Menos de cinco anos depois, Washington percebera que foi o próprio Ocidente um dos grandes financiadores do poderio chinês. De forma na maior parte das vezes sutil, Pequim desenvolveu um poderio militar que, hoje, os especialistas consideram mais complexo, organizado e completo que o russo. E os balões que têm sido abatidos sobre território americano são parte disso.
Por trás deles, está um dos mais brilhantes cérebros da aeronáutica mundial: o professor Wu Zhe. Os artefatos são parte de um programa discreto, mas altamente avançado, para o desenvolvimento de dirigíveis (os balões são a porta de entrada) para o estudo da estratosfera não apenas do ponto de vista da física — e de braços como a meteorologia — e os corpos celestes, mas para a aplicação nas Forças Armadas e na ciência. Como lá atrás, na corrida espacial entre russos e americanos, os interesses civis (comerciais inclusive) e militares são indissociáveis.
Os balões de Wu Zhe abatidos até agora são, segundo especialistas, apenas uma das partes visíveis do projeto. Os americanos já sabiam da existência deles, mas paira a dúvida se estão preparados para novas e surpreendentes ousadias.
Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio:
Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br

 Opinião
Opinião
 Opinião
Opinião
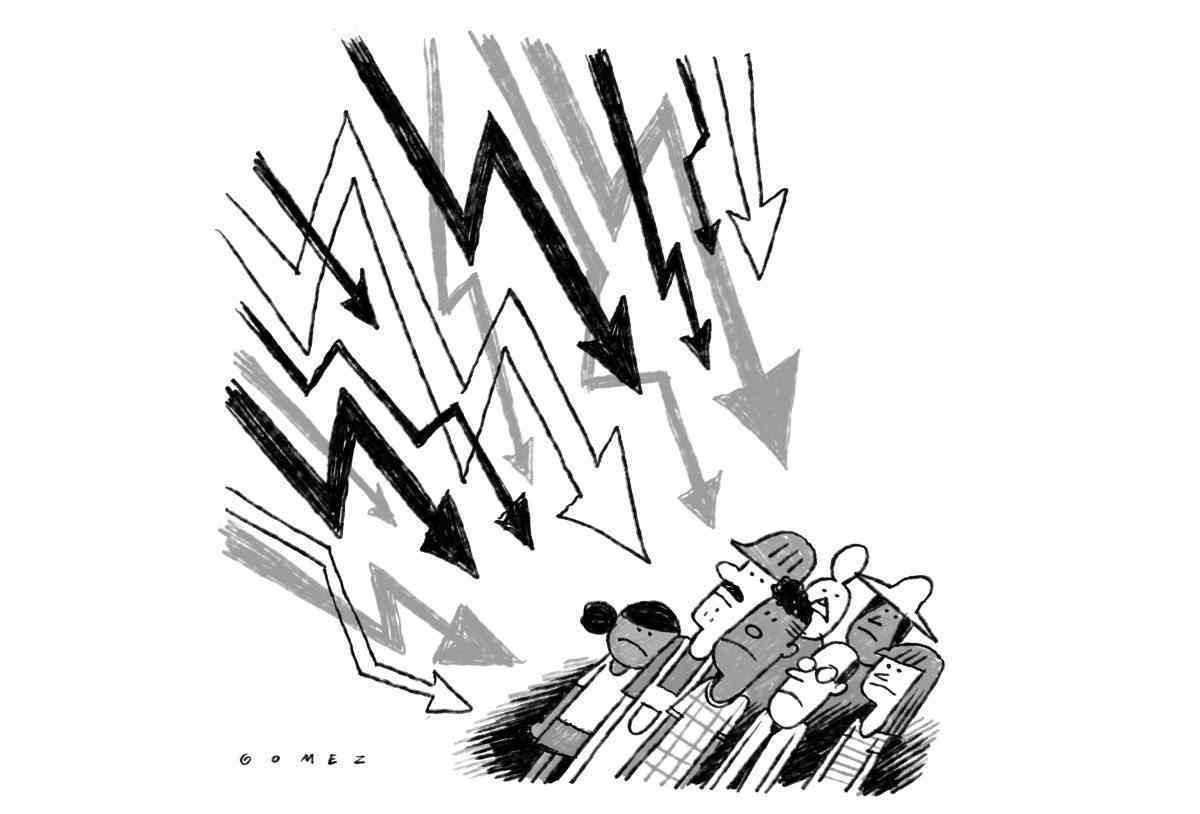 Opinião
Opinião
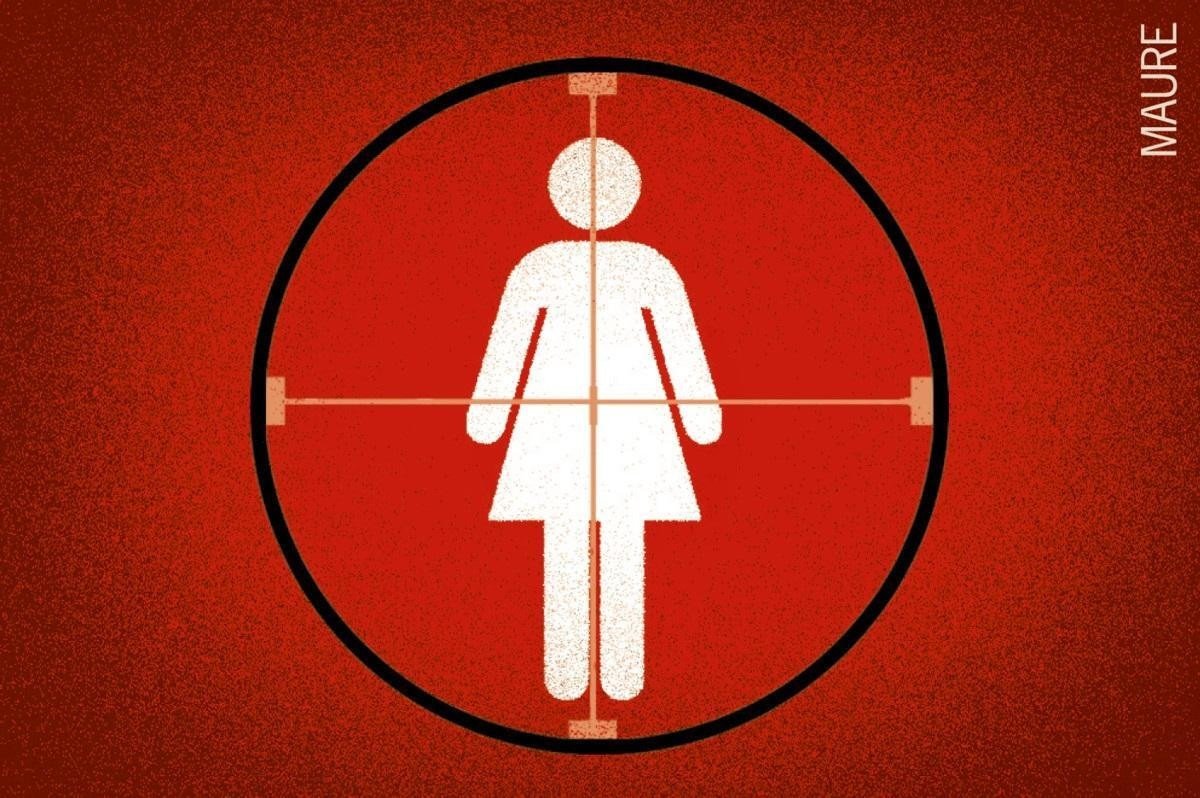 Opinião
Opinião